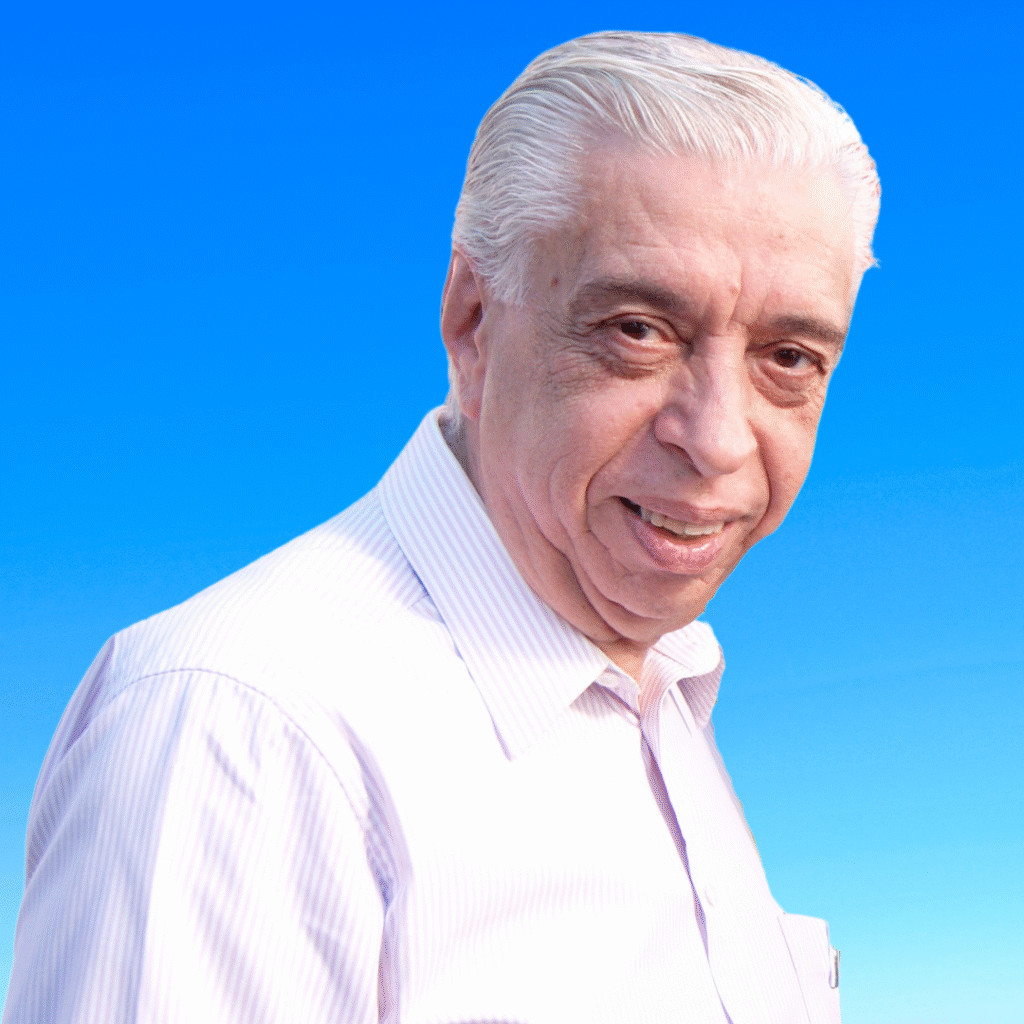
(*) Jorge Gama
Estamos no início de 2026 e o ano já parece previamente desenhado. Analistas da produtividade e observadores da vida nacional arriscam uma definição provocativa: “2026, o ano que não existiu”. A justificativa vem da soma de fatores que fragmentam o calendário e a atenção coletiva — Carnaval, Copa do Mundo, eleições gerais e uma sequência de feriados que, para muitos, criam a sensação de um período abreviado, disperso e pouco voltado para reflexões mais profundas sobre o país.
No campo esportivo, a expectativa se concentra na Seleção Brasileira e, mais uma vez, na esperança simbólica de que grandes nomes possam resgatar o orgulho nacional. No campo político, o cenário também começa a se desenhar. O país sabe que terá de escolher um novo Presidente da República, e os primeiros movimentos da pré-campanha já apresentam nomes, projeções e especulações.
Entretanto, o que se observa nesse início é uma disputa ainda muito centrada nas figuras conhecidas. A grande imprensa e as redes sociais alternam momentos de exaltação e crítica, quase sempre voltados ao passado pessoal e político dos possíveis candidatos. A avaliação de trajetórias e fracassos ocupa mais espaço do que a apresentação de ideias novas. A sensação predominante é a de que caminhamos para mais uma eleição marcada pelo “mais do mesmo”.
Até aqui, fala-se muito sobre quem pode disputar, mas pouco sobre o que se pretende fazer. Os programas de governo ainda não ganharam forma clara, e raramente se percebem sinais concretos de inovação capazes de enfrentar os desafios estruturais do país. Questões centrais como educação, produtividade, desenvolvimento tecnológico, segurança pública, reforma do Estado e crescimento econômico sustentável permanecem diluídas em meio ao debate sobre nomes e posicionamentos.
Nesse ambiente, outro fenômeno típico das disputas eleitorais começa a surgir e chama a atenção do eleitorado: as alianças políticas inesperadas. Adversários de um passado recente, que até ontem se enfrentavam com dureza, passam a dividir o mesmo palanque em nome da viabilidade eleitoral. Essas composições, muitas vezes justificadas como pragmatismo político, acabam provocando perplexidade na população. O eleitor, que acompanhou embates intensos e discursos firmes, vê antigos opositores se unirem com naturalidade, como se as divergências profundas tivessem perdido relevância.
Esse movimento reforça a percepção de distanciamento entre o jogo político e as expectativas reais da sociedade. O debate passa a girar em torno de estratégias, alianças e cálculos eleitorais, enquanto o Brasil concreto — o país que trabalha, que produz, que enfrenta dificuldades e que espera soluções — permanece como espectador.
Uma campanha eleitoral sem o Brasil é justamente aquela em que o centro da discussão não é o projeto de nação, mas a disputa pelo poder em si. Fala-se intensamente sobre quem ganha, quem perde, quem se alia e quem se afasta. Mas fala-se pouco sobre metas, compromissos e caminhos para o futuro. O país real, com suas urgências sociais e econômicas, torna-se pano de fundo para uma narrativa dominada por biografias, rivalidades e composições políticas.
O risco que se desenha é o de atravessarmos mais um ciclo eleitoral ruidoso, polarizado e intensamente acompanhado, porém com baixa densidade programática. Se o debate permanecer restrito aos nomes, às lembranças do passado e às alianças de conveniência, o Brasil — como projeto coletivo de futuro — continuará ausente do centro da conversa.
Mais do que uma disputa de lideranças, a eleição deveria ser um momento de reflexão nacional. O país precisa ser o motivo principal do debate, a referência das propostas e o destino das decisões. Caso contrário, teremos uma eleição movimentada e cheia de surpresas, mas ainda assim uma campanha eleitoral sem o Brasil.
(*) Jorge Gama é Advogado e ex-Deputado Federal.